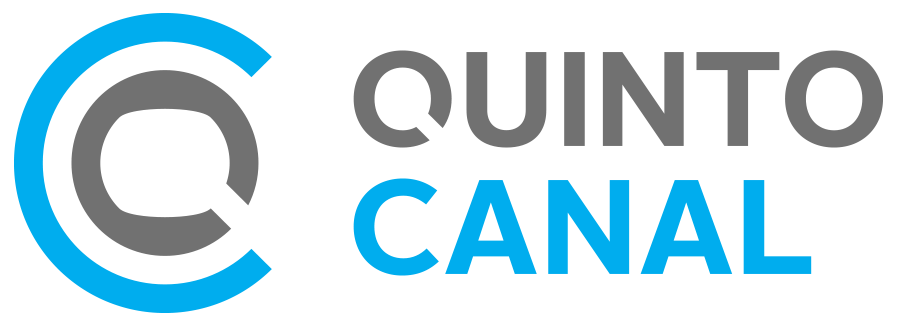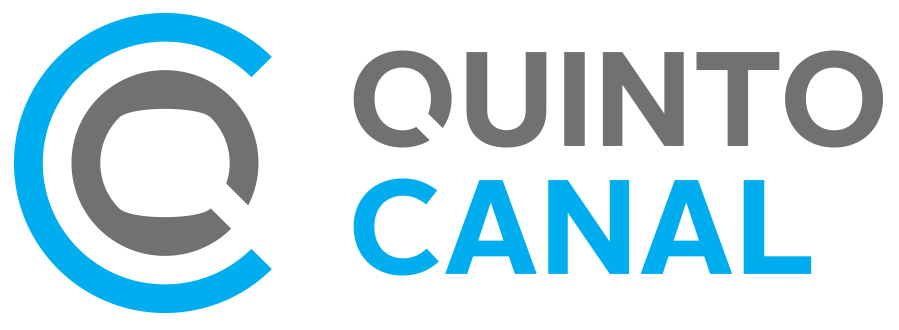Casa e Cozinha lança novo livro baseado no programa “Cozinha de Chef”
Entrevista – Ruben Garcia: «Poder abrir portas para os outros é o sublime de ser ator»
O Quinto Canal traz até si uma entrevista com o ator Ruben Garcia, um dos protagonistas de Listen, o filme português mais assistido de 2020.
Listen é a primeira longa-metragem de Ana Rocha de Sousa, escrito juntamente com Paula Vaccaro e Aaron Brookner. Gravado no Reino Unido, o filme tem no elenco atores como Lúcia Moniz, Ruben Garcia, Maisie Sly, James Felner, Ângela Pinto, António Capelo, Sophia Myles, Susanna Cappellaro, Kiran Sonia Sawar, entre outros.
Os teus primeiros passos na vida artística começaram no Ballet e Teatro Experimental de Lagos, foste estudar para a Escola Profissional de Teatro de Cascais e depois fizeste o curso da ACT – Escola de Atores de Cinema e Televisão. Sendo a representação uma área instável e concorrida, o que te motivou e deu alento para enveredares por este ofício?
Sempre senti algo intrínseco em mim, represento principalmente porque tenho esse desejo. É uma coisa natural. Sinto a necessidade de exteriorizar as minhas emoções através da arte.
Descreve-me um pouco o começo da tua vida profissional.
Comecei com uma companhia austríaca chamada Alma Productions, que é um espetáculo polidrama, em que as pessoas seguem os atores e há um jantar no meio, falado em francês, inglês e português. O encenador foi à ACT, viu as fotografias e escolheu-me a mim. Quando vi lá nomes como Simone de Oliveira ou Nuno Melo tive tanto medo que nem sequer fui à audição e o encenador insistiu para que fosse. Disse-me para fazer no casting o Cântico Negro, que era o único poema que sabia de cor. Ele não tinha papel para mim, mas um ator austríaco falhou e eu fui ao papel dele. Esse encenador gostou tanto de mim que me levou para Los Angeles, onde estive seis meses, sendo o único ator português escolhido por ele. Com esse espetáculo fui a Los Angeles, Viena, Jerusalém e Praga, entre outros, sendo uma década a viajar mundo com essa companhia.
Quando regressei, estive dois meses com o Amália, de Filipe La Féria, no Porto, numa segunda fase do espetáculo. Não canto, mas queria experimentar, assim como a revista um ator deve experimentar tudo. La Féria é um poço de sabedoria. Aprendi imenso com ele. Só trabalhei dois/três meses com ele, mas gostei muito e apaixonei-me pelo fado.
Após o La Feria estive na companhia de teatro Mário Viegas e em alguns espetáculos de produções independentes, e depois A Barraca.
Ao longo do teu percurso fizeste vários anúncios publicitários e dobragens de filmes e séries de animação. Que relevância esses trabalhos tiveram para a tua carreira?
Trabalhar a voz. Ela é uma coisa espetacular. Não se aprende à partida, é preciso treiná-la todos os dias. É um dos instrumentos principais do ator. Aprendi muito com as dobragens. Com a publicidade aprende-se a estar focado 12 horas de trabalho para 20 segundos de filme.
Aliás, uma vez fiz um anúncio da Sumol Z, em que tinha que dizer “Mas quem é que pôs isto ao contrário?”, que filmámos durante 12 horas, que quando cheguei ao fim já não conseguia falar. Isso foi erro meu porque na altura ainda não sabia colocar a voz ou dei demasiado de mim.
Em 2004 integraste a companhia Alma Mahler, nos Los Angeles Theatre. Durante essa estadia não houve nenhum momento que te sentisses tentado a consolidar uma carreira internacional?
Sim! Arranjei logo uma agente, mas era tão novo, foi a primeira vez que saí de Portugal e para tão longe. Mas ainda tenho o sonho de lá ir. Ou seja, acabar lá a minha carreira como ator em cinema, numa grande produção ou mesmo filme independente. Pode ser que sim, deixa ver.
Em 2014 contracenaste com João D’Ávila na longa-metragem Crime, de Rui Filipe Torres, inspirado num caso mediático ocorrido em janeiro de 2011. Como descreves o processo de construção do Rodrigo tendo implícita a propensão que a imprensa teve para vincular a obra ao caso de Carlos Castro e Renato Seabra?
Tudo começou porque o João D’Ávila escreveu uma peça de teatro. Ele conhecia o Carlos Castro e imaginou como seria numa obra fictícia. Aliás, apresentámo-lo uma primeira vez como teatro, o realizador viu e achou que era bom filmar.
Claro que li sobre isso, mas a minha construção foi outra. Comecei com o mote de claustrofobia, de ter repentinamente uma pessoa que não lhe era próxima, num sítio que era novidade, sem dinheiro, que mãe (da peça e depois do filme) começou a atacá-lo dizendo que a personagem lhe tinha prometido mundos e fundos e que depois ia acabar com ele, espoletando em si uma raiva. Ele era rebaixado e nem era homossexual. Estava deslumbrado com a carreira de modelo até que caiu numa sombra que espoletou o assassinato.
Não sei o que aconteceu, sou só um ator, mas as cenas eram bastante fortes.
Quais foram as primeiras impressões que tiveste quando leste o guião do Listen? Sentiste de imediato o peso da responsabilidade por entrares numa história que é a realidade de milhares de pessoas que vivem situações complexas similares à da Bela e do Jota?
Quando li o texto achei-o muito interessante porque senti logo uma grande conexão. Também já vivi no estrangeiro e sei o que é não perceber logo todas as leis. A Ana, com quem já tinha trabalhado em duas curtas-metragens, escreveu aquilo para mim. Adorei o guião logo à partida, e quando soube que era com a Lúcia Moniz ainda mais pois adorava trabalhar com ela.
A história era incrível. Comecei a investigar, ver vídeos reais sobre mulheres que bastava estarem com depressão ou de um pai estar desempregado que lhes eram logo retiradas as crianças. Aquilo é quase uma máfia porque as assistentes sociais estão ligadas a agências de adoção. Ainda mais quando se é estrangeiro, sem falar um inglês muito bom, sem poder colocar nas redes sociais que está a acontecer esse problema. E se uma criança é adotada os pais nunca mais a vêem, pelo menos até aos 18 anos, mesmo que estejam enganados, sem chance de retrocesso.
Estreou no Reino Unido e felizmente tem tido bom feedback, mas é uma coisa real. As filmagens foram muito duras, sendo que o filme não mostra nem metade da bagagem emocional que os atores tinham que levar para o set todos os dias. É uma coisa que parece que sai das entranhas.
No Listen interpretaste o Jota, que era pai de uma criança surda. Como foi o trabalho de aprendizagem de língua gestual?
Não sabia que a língua gestual mudava. Mesmo aqui há vários sotaques de língua gestual, de Lisboa para o Porto, em Espanha é outro tipo de linguagem, assim como em Inglaterra.
Tive uma semana com o pai da Maisie. Tinha poucas cenas com ela em língua gestual, mas comecei a aperceber-me de olhares. Houve mais uma empatia para com ela do que aprender propriamente os gestos. A Maisie é uma atriz muito especial, que me “adotou” como pai e isso foi muito interessante.
Há uma semana, em entrevista com a Maria Cerqueira Gomes, na TVI, a Ana Rocha reiterou o quanto lhe custou quando o Listen foi desclassificado da corrida aos Óscares por não ser considerado um filme português. De que modo lidaste com a situação?
Fiquei triste. É uma coprodução, mas era impossível contar esta história específica falando sempre em português. Há a regra dos 50% necessários e o nosso tinha 52% falado em inglês. Foi injusto. Acho que ganharíamos se lá fôssemos, por isso imagino a dor da Ana. Mas pelo menos fomos escolhidos pela Academia Portuguesa de Cinema e isso já é bom.
Foi um boom, o filme mais visto do ano mesmo na pandemia. Recebi mensagens de pais dizendo que era bom aquele ter não ter abandonado a família ao invés de se descartar e até de uma advogada que utilizou o filme para o caso de uma adoção em tribunal. Abriu portas para alertar várias pessoas que desconheciam isto e eu espero que o filme viaje mais. Poder abrir portas para os outros é o sublime de ser ator.

Grande parte do trabalho que tens desenvolvido nos últimos anos é no teatro d’A Barraca, onde és ator residente. O que vos leva a ser um grupo unido e resiliente perante adversidades como a pandemia ou a limitação dos apoios à cultura no nosso país?
Durante a pandemia A Barraca teve uma coisa muito boa que foi não despedir nenhum colaborador. A Barraca é uma família e tem grandes mestres – a Maria do Céu Guerra e o Hélder Costa – com quem se aprende todos os dias. Se estiveres em cena com um ator que é teu amigo e te esqueceres de alguma deixa ele nunca te deixará cair. Tem coisas muito boas em ser ator residente de uma companhia. Estou sempre a ginasticar, ou seja, sinto-me sempre preparado para qualquer desafio fora dali (filme, série…).
Nos primeiros meses deste ano estiveste em cena com a peça Fantasmas, de Henrik Ibsen, com encenação da Rita Lello, onde interpretaste o Pastor Manders. Quão é importante é nos dias de hoje uma personagem ícone de reputação, julgamento e moralidade, preconceituoso, carregado de medo e ódio?
Eu achei que não ia conseguir fazer porque não sou nada daquilo. Foi uma construção que tive que ir buscar aos meus avós que frequentavam a igreja evangelista e um pouco ao meu pai.
Foi muito difícil conseguir firmeza e fazer a voz dele. As pessoas riam-se da minha personalidade porque parece que já não existe, mas permanece em muitos de nós, e é por isso que elas riam. No teatro, os textos bons são sempre atuais.
No ano passado gravaste o filme Arquitetura de uma Impossibilidade, de Carlos Ruiz Carmona, que se encontra pronto para estrear. O que nos podes adiantar?
Nunca pensei que um filme fosse tão difícil com duas pessoas – é só comigo e a Carla Chambel. São dois amantes que não conseguem largar essa paixão ao longo dos anos. Ambos são arquitetos, o espaço é a preto e branco, com a arquitetura a ajudar a história.
Foi um processo complicado, mas felizmente tive uma grande conexão com a Carla, tornando-se mais fácil. Estávamos os dois para o mesmo, despidos. Estou à espera do resultado.
Prestes a estrear está também o filme O Vento Assobiando nas Gruas, dirigido por Jeanne Waltz, baseado na obra homónima da escritora algarvia Lídia Jorge, lançada em 2002. Quão benéfico é para o audiovisual ir beber às histórias da literatura portuguesa?
Fundamental, para dar a conhecer ao mundo os bons escritores que temos. Foi uma experiência muito agradável. A Jeanne é uma realizadora muito querida, com a qual gostei muito de trabalhar. Acho que correu muito bem porque houve um visionamento lá em baixo (Algarve), que eu não pude ir, mas o feedback que tive é que o filme está extraordinário.
Podes adiantar-nos alguma coisa sobre projetos futuros?
Tenho alguns projetos no cinema, mas não posso falar já.
A próxima coisa que farei, que já está mais concreta, é uma peça de teatro que se chama O Mal Entendido, n’A Barraca. Estamos em ensaios, com encenação da Maria do Céu Guerra e tem também a Rita Lello, Teresa Mello Sampayo, Samuel Moura e eu. O autor é o Albert Camus, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, em 1957.
É sobre um rapaz que deixou a família há 25 anos, o pai morre, vive em África e quando regressa a mãe e a filha não o reconhecem. E o que é que elas fazem? Matam todos os hóspedes que têm algum dinheiro. E será que elas o vão matar, ou não? Ele não sabe como comunicar e isso leva-o a uma espiral muito complicada.