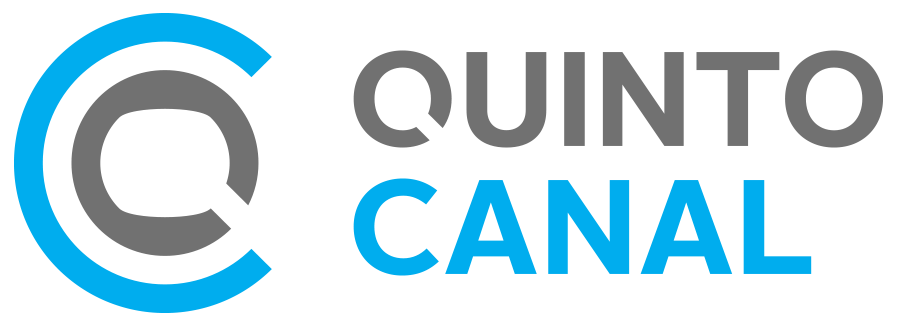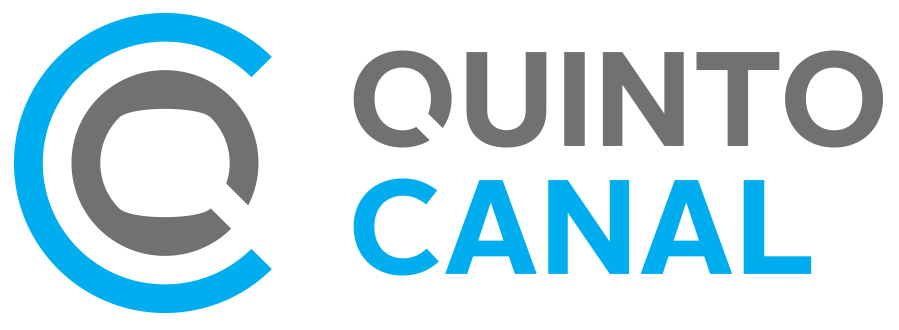Entrevista – Sérgio Graciano: «É importante ter conhecimento destas histórias e perceber a dificuldade que era viver naquela altura»
O Quinto Canal traz até si uma entrevista com Sérgio Graciano, realizador do filme O Som Que Desce na Terra, em exibição nos cinemas.
O Som que Desce na Terra é escrito por Filipa Poppe e Joana Andrade. O elenco conta com nomes como Gabriela Barros, Margarida Marinho, José Raposo, José Condessa, Rui Melo e João Vicente, entre outros.
Antes de ingressares em Cinema e Comunicação Social, estudavas Educação Física e jogavas basquetebol. Não sentes pena por teres preterido o desporto para abraçar a carreira que agora tens?
Às vezes tenho. Por vezes arrependemo-nos. Mas gostava de associar o desporto àquilo que faço. Não me importava de fazer um filme de superação, sobre o desporto, pela ligação que tenho. Acho que até pode conjugar-se e ser uma coisa interessante de se trabalhar.
No teu percurso profissional, que já conta mais de vinte anos de trabalho no audiovisual, tens-te dedicado a projetos de novelas, séries, filmes e programas de entretenimento. O que gostarias de ter oportunidade de fazer e ainda não fizeste?
Gostava de realizar um jogo de futebol, realizar desporto. Nunca me dediquei muito a realizar, mas acho que não seja fácil lidar com trinta/quarenta câmaras.
Em 2012 estreou Assim Assim, escrito por Pedro Lopes e realizado por ti, cuja produção se enquadra no cinema de guerrilha. Que preponderância achas que este tipo de filmes pode ter no futuro do cinema português?
Às vezes é a única maneira de fazer cinema. Não ganhava subsídios do ICA e queria muito fazer uma longa-metragem. Falei com o Pedro e seguimos em frente. Há trinta anos seria mais difícil filmar por causa da película. Hoje é mais fácil se tiveres as pessoas certas. Claro que precisamos de ganhar dinheiro, mas para lançar uma carreira pode ajudar. Pode ser uma boa maneira de começar.
O filme O Som que Desce na Terra é baseado numa história verídica passada na Guerra Colonial. Houve algum detalhe ou questão em particular do qual brotasse a tua vontade, da Filipa Poppe e da Joana Andrade, em fazer um filme neste contexto histórico?
O filme é inspirado num momento da vida de uma mulher. É só sobre a inspiração da entrega das mensagens. Tudo o resto à volta é ficção que a Joana e a Filipa criaram. Sempre quis fazer esta história, sendo algo que já vem de 2007, quando li uma reportagem. Ainda falei com a senhora em 2008. Falei com a Filipa e ela convidou a Joana para escrever. Já fiz muita coisa da Guerra Colonial e parece que esta questão me persegue. Não tive grandes dificuldades. Quando vou para a frente costumo arrancar.
Em que medida acreditas que histórias como a de Maria Estefânia Anachoreta ou de Maria Luísa Paiva Monteiro, da série A Generala, podem contribuir para a criação da consciência histórica e da memória coletiva?
Totalmente, pelo menos a termos de consciência do que aconteceu. O problema é que às vezes se não se conhecemos as histórias não vamos conhecer as personagens. Gostei de fazer esses dois projetos particularmente. Eram duas vanguardistas, mulheres à frente do seu tempo. É importante ter conhecimento destas histórias e perceber a dificuldade que era viver naquela altura, ainda mais porque agora se fala mais do papel da mulher na sociedade.
Recentemente realizaste a segunda temporada de Auga Seca e Chegar a Casa, que são duas co-produções luso-espanholas. Quão motivador e benéfico é para os autores, atores e toda a equipa técnica a criação de pontes com o estrangeiro?
Acho que tem mais a ver com a liberdade. Quando trabalhas numa coprodução, apesar de ser exigente a cabeça muda. Há mais liberdade para criar, para fazer. E, sobretudo, mais apoio financeiro. Criar uma série sem qualquer limite é o maior trunfo que podemos ter na vida. As plataformas existem para nos ajudar a superar as dificuldades que temos, pois não é fácil fazer séries e filmes aqui.

Terminaste recentemente de gravar a série Da Mood, que está prevista estrear no próximo ano na RTP, cujo foco está numa boys-band. Sendo o género um dramedy, como é tu, o autor e a restante equipa procuraram fazer o equilíbrio entre a comédia e o drama?
O dramedy é o género que gosto mais de fazer. É uma linha super ténue e se as coisas não forem feitas na dose certa recai para um dos géneros. O dramedy é um género muito específico, tendo evoluído muito nesse sentido. É comum no mercado internacional, mas pouco em Portugal. Não me lembro de muitos exemplos de dramedy por cá. Lembro-me d’Os Boys de Tiago Guedes, Até Que a Vida Nos Separe e o Chegar a Casa, que tem uns laivos. É um género difícil de explorar, mas que adoro fazer. É uma linha difícil.
Ainda nas co-produções, é sabido que brevemente irás embarcar na aventura de ir para a Islândia gravar Cold Haven. Como foi que recebeste este convite? Estás expectante?
Estou desde a génese deste processo, por isso é um convite quase obrigatório, diria eu. Estou desde a criação, estando a acompanhá-lo desde que nasceu quanto com o José Amaral da SPi, quanto com as autoras. Estou ligeiramente apreensivo, porque na Islândia faz frio e é um projeto grande e ambicioso. É um thriller, que é algo que também gosto muito de fazer. Já vivi e fiz muitas coisas fora, mas nunca fui para algo tão distante. Quero preparar bem o meu trabalho. Estou expectante, curioso. Sou um admirador de thrillers nórdicos. Quero fazer um thriller nórdico sem precedentes, bem feito, que possa viajar no mundo.
O que achas das séries mais recentes produzidas em Portugal, quer na televisão aberta, quer nas plataformas de streaming? A sua qualidade está ao nível do que se tem feito no estrangeiro ou ainda há um longo caminho a percorrer?
Acho que temos crescido muito. Há um longo caminho a percorrer. Para sermos concorrentes precisamos de ter mais dinheiro para produzir. Um episódio de uma série normal em Portugal custa em média dez vezes menos que noutro país. Imaginemos que fora a rodagem dura seis meses e aqui seis semanas. É muito difícil sermos concorrentes embora ache que começamos a ser. Não é fácil levantar estes projetos com pouco dinheiro e as pessoas olharem para eles e não verem as diferenças com os projetos que acontecem nos EUA, Espanha ou França. Mas acho que temos crescido muito, nos últimos dez anos as séries têm disparado, e vão ainda mais, com a questão das plataformas que dão força. Estamos num bom caminho.
Há muito que o sector da cultura clama por acções a nível de investimento, estatutos e regulamentação às entidades políticas. De que modo crês que elas podem incrementar o mercado audiovisual?
Totalmente. É um bocado continuação da questão anterior. 0,25% para a cultura é muito pouco. Precisamos de muito mais dinheiro para podermos ser concorrentes. Aliás, o meio audiovisual gera muito emprego e podia gerar muitos mais. Podíamos ser um país como é em Madrid (na Gran Via) ou em Londres onde tens teatros por todo o lado, vida que aqui não tem. É a altura certa para fazer um investimento na cultura. Precisamos que as pessoas vão teatro e que haja uma educação cultural. Por exemplo, na Argentina já há cinema desde a escola e deram salto qualitativo no seu audiovisual. Nós precisamos de incentivos na educação, ainda mais porque a cultura é a identidade de um país e não nos podemos esquecer nunca disso. Por isso, precisamos de injeção, dinheiro, motivação e fazer educação para a cultura.